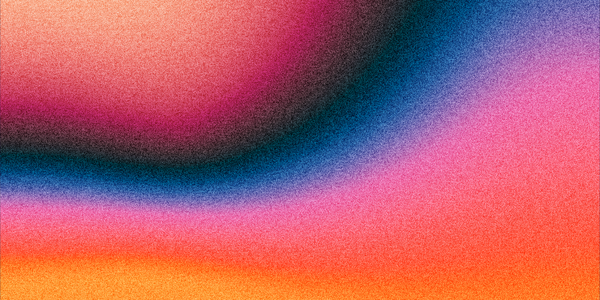Será que avançamos ou ainda somos os mesmos?
Quarenta anos depois e Elis Regina parece falar sobre o mercado musical atual

Durante o programa Jogo da Verdade (TV Cultura), em 1982, Elis Regina coloca no centro da conversa o mercado musical brasileiro da época. Ao longo dos assuntos, ela nos elucida de maneira crítica e reta, o presente e o futuro de um cenário, onde a criatividade não era mais o principal pilar.
Àquela altura, Elis era uma figura pública de alcance nacional. Sua carreira já atravessava mais de duas décadas e o seu conhecimento sobre o mercado era de alguém que havia passado pela televisão, grandes festivais, turnês internacionais e as principais gravadoras do país. Portanto, a contundência de Elis, frente a Zuza Homem de Mello, Maurício Kubrusly e Salomão Esper, é de uma artista atenta e consciente do seu ofício.
Ao longo dos quase 50 minutos de entrevista, Elis fala sobre o seu primeiro álbum, sobre a estrutura do mercado, a consciência de classe frágil dos músicos e sua opinião sobre qual seria o papel de sua geração frente a fenômenos culturais e musicais como a Vanguarda Paulista.
Pouco mais de 40 anos depois dessa entrevista, que seria sua última em vida, as falas de Elis parecem descrever o mercado musical brasileiro de hoje.
Será que avançamos ou ainda somos os mesmos?
para aproveitar melhor a leitura, ouça os áudios.
Sobre o início
"Elis Regina Carvalho da Costa, gaúcha de Porto Alegre, mãe de três filhos, destacou-se e passou a ser uma estrela da música popular brasileira. Quando Elis canta entende-se porque há anos ela se transformou numa das grandes figuras da nossa música", anuncia Salomão Esper no início do programa.
O programa Jogo da Verdade, da TV Cultura, trazia no centro do estúdio figuras públicas, que eram entrevistadas por convidados ali presentes ou por meio de inserções em vídeo.
Na primeira inserção, o cantor e compositor Renato Teixeira, pede para Elis falar sobre o seu primeiro álbum, o Viva a Brotolândia, lançado em 1962 através da gravadora nacional Continental.

Na época, Elis Regina tinha apenas 16 anos e, como relata, foi contratada para ser a “Celly Campello da Continental”, já que a própria Celly era contratada da Odeon.
O desejo da Continental em ter a sua Celly é parte de uma lógica (que não se restringe ao negócio fonográfico, alô capitalismo) que sempre esteve, e continua, presente na indústria. Quando uma gravadora cria e valida um produto (artista), é esperado que outras fabriquem seus similares.
Na sequência, Elis chega a ser provocada por Zuza para que ela fale sobre artistas impelidas a serem “a Elis Regina” de suas gravadoras, mas ela diz preferir a ética e não cai na provocação.
Mas, faça você um exercício. Nos anos 80, por exemplo, todos os canais de televisão queriam sua Xuxa, na década seguinte toda gravadora tinha sua dupla sertaneja, e quando virou os anos 2000, cada uma com a sua Britney Spears e seu Backstreet Boys. E hoje? Será que é o viral que está na mira?
Sobre as mudanças
Maurício Kubrusly pede para Elis falar sobre as mudanças ao longo de sua carreira, principalmente no que tange o processo de gravação de um disco.
Elis diz logo que está mais difícil. Ela destaca as novas etapas criadas neste processo e coloca em cheque a relação dos executivos com quem realmente consome a música, o público. Enquanto no escritório eles coletam dados, no palco, os artistas ouvem de forma direta as demandas do seu público consumidor.
Sobre esse período, trago aqui um trecho da matéria assinada por Ana Maria Bahiana para o jornal O Globo, de 3 de maio de 1982. Segundo a pesquisadora, a crise do disco, detonada no segundo semestre de 1980, marcou o fim de uma era, onde as gravadoras se davam ao luxo de seguir temperamentos e ideias às vezes de um único homem, abrigando e impulsionando movimentos musicais, projetos experimentais, explorações sonoras (Vicente, 2015).
Para ela, nesses novos tempos, em oposição,
… a palavra risco foi abolida do vocabulário da indústria fonográfica. Ao departamento comercial, e não ao artístico, foi dada primazia sobre as decisões. De uma forma ou de outra, uma figura relativamente nova começou a acumular poder: o homem de marketing... que passou a ter a palavra inicial e final sobre quem grava o quê… Repertório, músico, arranjos, que antes eram privilégios exclusivos do artista ou do produtor ligado a ele diretamente, passaram a ser discutidos em conjunto por toda a empresa, com importância vital dada às opiniões do departamento comercial. Novas contratações passaram a ser debatidas e estudadas como táticas de guerra: que faixa de mercado não está coberta, qual o melhor modo de atingi-la, que artista pode vender em qual faixa. (grifo meu).
Sobre a estrutura
Ainda que outras tecnologias de gravação e reprodução sonoras tenham sido inventadas antes, historicamente marca-se o ano de 1878 como sendo o de criação da fonografia, quando a patente do fonógrafo é dada a Thomas Alva Edison (GITELMAN, 1999; STERNE, 2003). Apesar de ser aclamado como uma tecnologia da informação e da comunicação revolucionária, o próprio Edison encontrou grandes dificuldades para estabelecer uma maneira lucrativa para sua invenção (CHANAN,1995; DOWD, 2002). De fato, seria apenas nos últimos anos da década de 1890 que a gravação de música se tornaria o principal conteúdo das gravações sonoras. No entanto, já a partir desse momento, a fonografia se configuraria como um negócio de alcance internacional. Ao se observarem as datas em que se dá o início da produção de fonogramas no Brasil, poder-se-ia notar que elas não são muito distintas das de outras regiões periféricas ao capitalismo industrial. Há registros do início desse negócio na Escandinávia (GRONOW, ENGLUND, 2007) e na própria América Latina (GONZÁLES e ROLLES, 2004) mais ou menos na mesma época, revelando que o desenvolvimento da indústria fonográfica em países não industrializados esteve diretamente relacionado à expansão do comércio internacional durante a chamada era dos impérios (HOBSBAWN, 1998) e a conseguinte estruturação das telecomunicações que conectavam países industrializados aos agroexportadores espalhados pelo globo.
Esses primeiros anos da fonografia foram marcados pelo uso estratégico de patentes. Através delas, regulava-se o acesso à tecnologia e se criavam monopólios de mercados ao redor do mundo. De um lado, nos países industrializados, havia empresas fonográficas que desenvolviam e controlavam a tecnologia de produção sonora através de patentes e que detinham plantas industriais para produção em larga escala de discos. De outro, estavam aventureiros que saíam pelas áreas coloniais em busca de localidades onde pudessem estabelecer gravadoras. Uma vez gravadas as matrizes, o material era enviado a fábricas nos países industrializados para a produção em larga escala, sendo comprado o produto manufaturado para revenda. (VICENTE, E.; DE MARCHI, L. Por uma história da indústria fonográfica no Brasil 1900-2010: uma contribuição desde a Comunicação Social. Música Popular em Revista, Campinas, ano 3, v. 1, p. 7-36, jul.-dez. 2014.)
A música, como principal conteúdo de gravações sonoras, foi o modo mais lucrativo de se vender fonógrafos e, consequentemente, os discos para se ouvir nesses aparelhos. Por isso, o negócio fonográfico sempre foi um negócio de discos, não propriamente de música.
O músico, que era o capital humano na esteira da fábrica de discos, passou a ser também mercadoria. É possível relacionar esse movimento com a popularização de periódicos dedicados às estrelas e o aumento de interesse do público pela vida privada e figura dos artistas.
Hoje, o artista não é apenas uma mercadoria, mas sim uma marca, um brand ou até mesmo uma startup.
Essa retórica - que desumaniza -, oriunda de quem detém os meios de produção, sobre o papel do artista na indústria, sempre o afastou da ideia que, na realidade, ele é classe trabalhadora e não a “própria indústria” (sim, a Taylor Swift não é a indústria).
Ao ser questionada por Zuza, sobre a qualidade das composições que recebia, Elis revela que decaiu, mas que a culpa não era dos compositores, tampouco nossa.
Para ir além, é importante saber qual era o contexto do mercado musical naqueles anos, principalmente na virada da década de 70 para a 80.
Segundo Eduardo Vicente (2015), as décadas anteriores foram um período de cristalização dos padrões de consumo e organização da indústria fonográfica do país.
[Nesse âmbito], tivemos não apenas um extraordinário crescimento do mercado, para também sua aproximação de alguns dos padrões internacionalmente dominantes, sendo o principal deles o da preponderância da empresa transnacional sobre a nacional e do conglomerado sobre a de orientação única. Uma de suas consequências foi a intensificação do uso das estratégias integradas de promoção envolvendo redes de rádio e TVs, situação que acabou dando à produção e distribuição das trilhas de novelas uma grande relevância no contexto da indústria. A televisão, aliás, tornou-se uma espécie de “divisor de águas” do mercado musical oferecendo, como vimos, importantes instrumentos para a legitimação de artistas e gêneros musicais urbanos.
Também tivemos, no período, as bases para uma divisão de mercado que tendeu a colocar as gravadoras nacionais na precária condição de explorar gêneros preteridos pelas grandes gravadoras e/ou trabalhar na prospecção de novos segmentos e artistas.
(…)
Talvez a característica da indústria do período mais afinada com as tendências internacionais, tenha sido a da busca por um mercado jovem. Desde a Bossa Nova, nenhum movimento musical então surgido deixou de ter essa preocupação evidente, inclusive, nas denominações de alguns deles: Jovem Guarda, Movimento Artístico Universitário (MAU), etc.... Nessa busca cada vez mais intensa e racionalizada pelo mercado jovem, que assumirá importância ainda maior nos anos 80, merece destaque a saída de Andre Midani da direção da PolyGram, ocorrida em 1976. Com atuação marcante no cenário da indústria desde a década de 50 (quando foi um dos grandes apoiadores da Bossa Nova), Midani reunira na PolyGram um dos casts mais significativos da história da indústria no país, integrado por praticamente todos os nomes consagrados da MPB. Sua atitude de deixá-lo em troca da missão de fundar a WEA do Brasil parece-me demarcar, ao menos simbolicamente, o encerramento de toda uma era da história do disco no país. (Morelli, 1991: 77/78).
Nessa virada de década, “as mudanças mais importantes se farão sentir, é claro, no tipo de música que passará a ser privilegiado pelas gravadoras. A busca pelo mercado mais popular e pela regionalização do consumo – aliada à redução da eficácia comercial da MPB e à necessidade da redução dos custos de produção e dos cachês artísticos – acabará rompendo a divisão do mercado entre discos econômicos e sofisticados estabelecida a longo da década anterior, levando a uma intensificação ainda maior dos conflitos entre as empresas. Ao mesmo tempo, a presença mais determinante do marketing – associada à necessidade da exploração de novos nichos de mercado – levará a uma racionalização ainda maior da produção, bem como à criação de produtos objetivamente voltados ao atendimento de novas faixas de consumo, com uma restrição ainda maior dos espaços para a criatividade e a experimentação. Ao longo da década, as exigências desse novo cenário terão resposta, conforme veremos a seguir, através da priorização de segmentos musicais como o popular-romântico, o sertanejo, o rock e a música infantil” (Vicente, 2015).
Sobre a nova geração
A jornalista Maria Rita Kehl relembra que, durante anos, Elis Regina teve papel fundamental na projeção de muitos compositores ao sucesso de público, ou seja, uma “reveladora de talentos”. Por isso, pergunta à cantora quem, àquela altura, ainda a procurava. E usa como exemplo uma “turma nova” de cantores e compositores paulistanos que chamava atenção da crítica, e que, até então, não precisaram de Elis para alçar suas composições ao público.
Essa “turma”, que Maria Rita faz referência, é a chamada Vanguarda Paulista. Cena musical independente de São Paulo, que teve seu ápice entre os anos de 1979 e 1985. Entre suas figuras expoentes estão Itamar Assumpção, Tetê Espíndola, Suzana Salles, Vânia Bastos, Arrigo Barnabé, Ná Ozetti e Eliete Negreiros, e as bandas Língua de Trapo, Patife Band e Premeditando o Breque.
Elis Regina aponta que músicas, como as feitas no interior da Vanguarda Paulista, por exemplo, não tinham mais espaço nas gravadoras, porque já não havia mais liberdade. Lembra do trecho da Ana Maria Bahiana? O risco não era mais inserido na conta, os cálculos eram outros.
Além disso, chama atenção ao fato que este novo cenário, onde uma “Elis Regina” não lança mais novos compositores, é um sintoma muito mais profundo e longo do que se imagina.
Elis segue falando sobre a diferença entre a sua geração e a daquele momento. Para ela, o fato de terem enfrentado a preocupação constante para que uma série de direitos fossem reavidos, fez nascer obras que, ao longo dos anos, se afastaram do grande público. Porque o que precisava ser dito, tinha de ser dito de maneira omissa, lúdica, ou seja, como a própria Elis diz “de bêbado e a equilibrista, todo mundo tinha um pouco” - não nos esqueçamos que a artista e sua geração viram o início e o ápice da ditadura militar de 1964.
Portanto, quem chegou depois e falou mais fácil, mais direto, ganhou o espaço. O que nada tem a ver com a produção independente paulistana daquela virada de década. Acredito que Elis estava se referindo muito mais aos fenômenos comerciais e de massa daquele momento.
Ainda no ensejo sobre a nova geração, o apresentador Salomão Esper questiona Elis se ela estaria inacessível para que esses artistas independentes chegassem até ela.
A cantora diz que nunca esteve mais acessível, mas que não cabia a ela imputar um aval, ou o peso de uma benção, na música dessa nova geração. E mais, era importante que a sua geração compreendesse o momento certo de se retirar para que aquela contracultura florescesse.
Durante décadas, a música cantada por Elis e uma geração inteira de artistas, foi colocada para o país como a “cultura oficial” ou “cultura nacional”, a verdadeira Música Popular Brasileira. O que era veiculado na Rádio Nacional, e oriundo do eixo Rio-São Paulo, carregou durante anos essa alcunha.
Quando Elis fala sobre a Vanguarda Paulista, ela reconhece o peso que sua voz carrega, ainda que ela não a considere assim.
Ela vai além,
Esse “aval de cultura oficial” ainda é buscado e segue sendo importante no mercado. Porque um artista ser extremamente popular, não significa que ele seja parte desse “lugar respeitado”, entendem? Uma cantora de funk carioca, de axé ou de pop só é levada a sério quando participa do especial do Roberto Carlos. A rima do Criolo ganha a atenção da crítica especializada quando Chico Buarque a canta em um show. A bossa nova da Luísa Sonza ganha coluna do Nelson Mota, porque o Caetano Veloso deu o veredito. Percebem?
Sobre consciência de classe
Kubrusly abre a parte final do programa questionando Elis sobre o preço dos discos e a dificuldade do público em se aproximar do artista por conta disso.
De fato, era um momento de crise para a indústria fonográfica e para entendermos melhor, acho importante recorrermos mais uma vez ao pesquisador Eduardo Vicente que, no trecho abaixo, nos explica sobre o período dos anos 70 e início dos anos 80.
Não se pode negar que, ao longo dos anos 70, a indústria também enfrentara turbulências apesar do grande crescimento verificado. Já foi observado aqui que o choque do petróleo de 1973 traduziu-se para a indústria na forma de uma crise de matéria-prima, criando “grandes dificuldades para a aquisição do produto no mercado mundial, onde havia escassez e especulação – agravadas por um aumento brutal no valor da alíquota de importação dessa matéria-prima, com o qual o governo brasileiro pretendia incentivar a produção nacional que era, contudo, incapaz de corresponder à demanda” (Morelli, 1991: 71/72). Mas tratava-se, evidentemente, de uma crise na oferta e não na procura por discos. E, embora a tenha refreado, sabemos que não reverteu o tendência de crescimento da indústria. O mercado, ao contrário, permanecia bastante atrativo, levando até uma empresa como a alemã Basf a iniciar suas atividades fonográficas no Brasil em abril de 1974, auge da crise do petróleo, mesmo que isso tenha significado ser obrigada, por alguns meses, a importar os discos que distribuía ao invés de produzi-los aqui.
Já em relação ao cenário mais geral da indústria são vários os aspectos a assinalar. Um dos que eu gostaria de mais uma vez enfatizar é o da maior segmentação do mercado que então se verifica, como a autonomização e sobrevivência simultânea de cenas distintas – infantil, rock, disco, MPB, romântica, sertaneja, etc, além do surgimento e diversificação da cena independente – que passam a contar com circuitos próprios de divulgação e exibição.
Seguindo sua colocação, Elis fala sobre a desmobilização da classe artística, não apenas frente à essa crise, mas frente a qualquer assunto. A cantora cita como exemplo alguns colegas que iam à Brasília “brigar pelo interesse do patrão”.
Naquele período, as gravadoras, usando de seus casts, realizavam um forte lobby para que a lei de incentivo fiscal de 1967, que restituía o ICM dos discos, não fosse revogada. Caso contrário, o disco de vinil entraria para a lista de produtos supérfulos e passaria a ser taxado. Apenas em 1988, é que de fato, a lei foi reavaliada.
Eduardo Vicente (2015) sobre o assunto:
A indústria mostrou-se organizada também na bem sucedida ação que realizou em prol da manutenção da lei de incentivo fiscal que a beneficiava e que ficara sujeita a reavaliação a partir da promulgação da Constituição de 1988. Diante da decisão dos Estados do Rio e São Paulo – que concentravam toda a produção – em suspender o benefício, a indústria realizou um intenso lobby que envolveu a ação de artistas, políticos e diversos profissionais e órgãos de imprensa.
A consciência de Elis, em relação à classe trabalhadora da qual ela pertencia e as irregularidades atreladas à ela, a fez fundar em 1978 a ASSIM (Associação de Intérpretes e Músicos). No final da entrevista, o maestro Amilson Godoy relembra esse feito e faz uma espécie de convocação à cantora para que ela possa tomar frente das demandas da classe.
Ao que ela responde,
Hoje, a estrutura ao qual ela se refere mudou. Quem arrecada é o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), que é administrado por associações de gestão coletiva, que distribuem. A OMB (Ordem dos Músicos do Brasil), que nasceu para defender os interesses da classe, segue sendo um mistério.
Eu diria que o que não mudou, é o desconhecimento do músico, compositor e ínterprete sobre a extensão do próprio problema, sobre a complexidade de uma indústria, onde há mais de quarenta anos reserva para eles a menor fatia.
Confesso: escrevi diferentes desfechos para esse textão, mas não encontrei nada apropriado. Então ele vai terminar aqui, de sopetão mesmo. O objetivo hoje era fazer esse “joguete” entre passado e presente, pra gente ver que tudo muda e nada muda. Espero que tenha dado certo, que não tenha cometido nenhum tipo de anacronismo. E, claro, se você é artista, organize o seu ódio.
Bem, “fiz o que pude, se desagradei alguém, lamento”.
Para ir mais fundo:
- Elis Regina - Jogo da Verdade
- Música e disco no Brasil: a trajetória da indústria nas décadas de 80 e 90 - Eduardo Vicente, 2015
- A música popular sob o estado novo (1937 - 1945) - Eduardo Vicente, 2006
- A gravadora Chantecler e a música regional do Brasil - Eduardo Vicente, 2017
- Discografia Elis Regina
- Por uma história da indústria fonográfica no Brasil 1900-2010: uma contribuição desde a Comunicação Social - Eduardo Vicente e Leonardo de Marchi, 2014